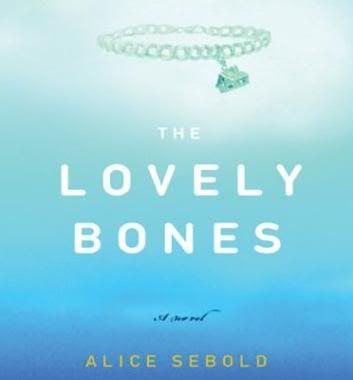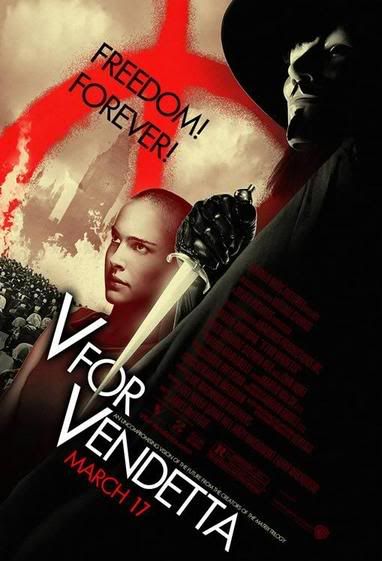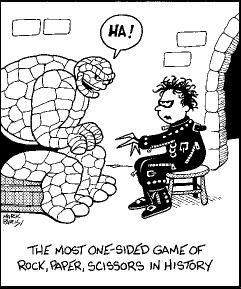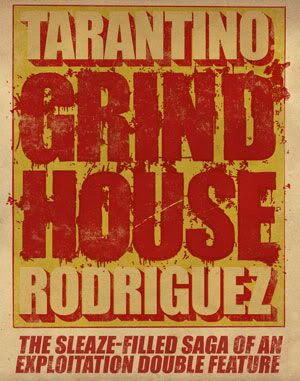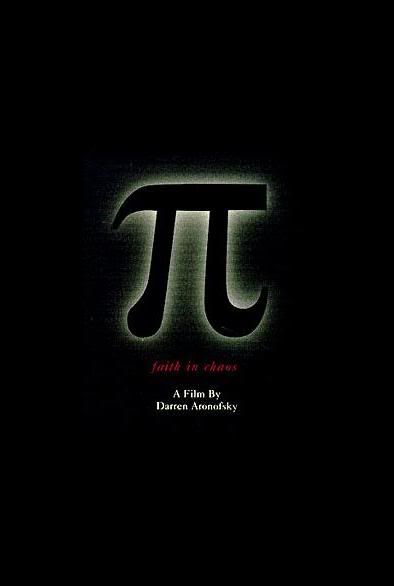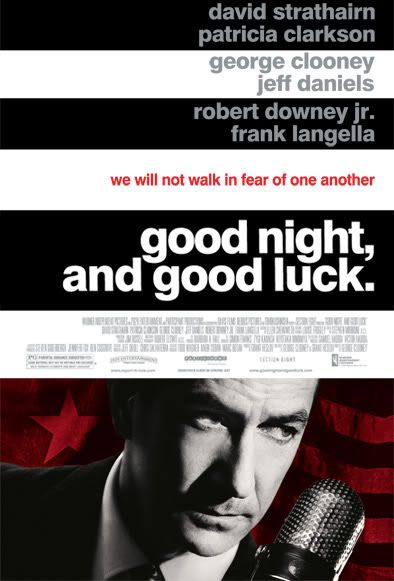Class.: 
 A sombra inominável da condição humana
A sombra inominável da condição humanaRotulado como o seu trabalho mais acessível, “A History of Violence” possui a essência dos pesadelos mais inquietantes de David Cronenberg, um mestre habituado a sugar-nos os miolos com uma palhinha. Tenso e atmosférico, “A History of Violence” é uma amálgama piromaníaca de polpa visual e conceitos incisivos, empacotados numa versão hiper-realística de um filme série B da década de 50. Esta meditação amarga sobre a violência é uma adaptação do romance gráfico de John Wagner e Vince Locke e segue a vida de Tom Stall (Viggo Mortensen), um pacato cidadão respeitado pelos seus conterrâneos. Juntamente com a sua esposa Edie (Maria Bello) e seus dois filhos Jack (Ashton Holmes numa promissora interpretação) e Sarah (Heidi Hayes), vive uma espécie de sonho americano numa recôndita vila. Mas como qualquer Jardim do Éden, ameaças de envenenamento pairam no seu firmamento.
Apesar de ser apregoado como um trabalho de encomenda, “A History of Violence” é claramente o trabalho de um artista com propósito. Flutuando a narrativa numa linha esbatida entre o sonho e a realidade, Cronenberg oferta um ensaio com implicações dramáticas sobre a natureza humana. É uma história sobre identidade e família, uma análise do papel da violência na sociedade. A sua envolvência macabra, mesclada com humor negro, questões profundas e respostas viscerais apelarão audiências a reexaminar as componentes do seu coração, experimentando sentimentos além do simples patamar teórico. Um dos seus feitos máximos é provocar respostas emocionais díspares e até ambíguas (riso em momentos rígidos e aplausos espontâneos perante violência impiedosa). A nossa mente, entranhas, libido e coração serão agitados, mas o tratamento das reacções será sempre equitativo por parte de Cronenberg, sejam estas simples ou complexas.
O carácter bifurcado das personagens é extraordinariamente amplificado pela batalha entre o Ego e a Identidade, que toma lugar nas suas mentes fracturadas. Ao som da subtil, embevecida, lacónica e insidiosa composição de Howard Shore, Viggo Mortensen e Maria Bello perpetram uma dança atilada, plena de propósito temático. Mortensen domina de forma escrupulosa uma linguagem facial que transmite universos de sentimentos, esfolando várias camadas de personalidade. Bello interpreta Edie com precisão física, colocando-se sempre de forma diferente ao pé de Mortensen. William Hurt e Ed Harris são impecáveis na concepção de personagens amargas, enclausurando misteriosos níveis de ameaça. Peter Suschitzky inicia o seu trabalho fotográfico submergindo o local de reunião familiar (cozinha) com raios de sol, mas cadenciadamente uma tonalidade de crepúsculo toma conta do ambiente, culminando numa soturnidade memorável. Incrível é igualmente a forma como a introdução do passado da personagem principal emerge lentamente através da colocação de diversos personagens numa recôndita sombra.

David Cronenberg sempre se encontrou um passo mental adiante de muitos cineastas e espectadores, escavando o seu próprio ninho no mascavado sistema de Hollywood (intelectualmente indisciplinado e pastoreado na direcção do Box-Office). Costuma ser etiquetado no género de Horror graças à forma como nos apresenta a vida de um ângulo grotesco, mas a sua versatilidade é um facto asseverado por películas que aparentam géneros fílmicos, mas habitam constantemente num cosmos acinzentado entre géneros. O cinema de Cronenberg é um cinema científico, vagueando entre as parábolas de “Shivers” e a obsessão corporal de “The Fly”, desfocado da sua configuração de progresso sadio, mas imerso na glacial ciência que disseca a humanidade em reacções químicas e alvoroços moleculares de “Dead Ringers”.
Existirá algum realizador tão obcecado na transformação/transgressão do corpo e mente?
No início, David Cronenberg esquartejava as suas obras com um horror assente num nível visceral, pescando as entranhas do nosso pavor com um anzol celular. Contudo, a sua filmografia presente confirma uma determinada exteriorização desse horror. Desde os fetishes sexuais de “Crash”, o realizador canadiano tem centrado a sua criação na exposição da intrínseca violência humana. Cronenberg foca a sua filmografia soberba no ubíquo fascínio humano pelos extremos, sejam psíquicos (“Scanners”), electrónicos ("Videodrome"), paranormais (“The Dead Zone”), científicos (“Shivers”, ou "The Fly"), médicos ("Dead Ringers"), narcóticos ("Naked Lunch"), eróticos ("Crash"), virtuais ("eXistenZ") ou psicológicos ("Spider"). Em “A History of Violence”, o cineasta exibe a extrema negação humana do seu intrínseco lado violento e respectiva reacção atarantada perante a consciencialização do lado negro do seu coração.

Orquestrando a violência irrepreensivelmente, Cronenberg demonstra-nos em “A History of Violence” como adoramos secretamente aquilo que condenámos publicamente. Utilizando arquétipos cinematográficos, o realizador quebra ilusões de norma social, numa lição sobre a pujança da violência passando de geração em geração como uma inseparável sombra da Humanidade. Centrado em actos axiomáticos de violência, o filme reflecte um dos factores intrínsecos ao Ser Humano: o seu longo e incontornável historial de violência. A violência encontra-se encadeada no nosso ADN, e tal instinto primário atiça os olhos do Homem com fascínio quando (por exemplo) perscruta um acidente rodoviário pelo vidro da sua viatura. A violência é inerente à componente humana e entre outras coisas é uma forma que o Homem utiliza por força (a palavra vem do Latim «vis» que significa «força») para tentar introduzir mudanças.
Nesta notável escavação sobre a dualidade da condição humana, a sensibilidade de Cronenberg atinge píncaros de excelência, com particular destaque para o sublime contraste temático entre duas cenas de sexo e a distinta atitude familiar no pequeno-almoço inicial banhado por uma luz solarenga, drasticamente alterada pela soturnidade na ceia final. O efeito de oblíqua redenção acentuado pelo silêncio arrepiante adorna um dos finais mais emblemáticos e memoráveis dos últimos tempos.
Existirá algum padrão para a essência primária de cada indivíduo? Quais as características que nos preenchem aquando da nossa criação? Somos aquilo que nos acompanha desde a génese ou somos moldados pelo ambiente que nos abrange? Seríamos capazes de sobreviver sem a inerente componente violenta? Será a violência justificada em algum momento? O que será que estabelece a nossa essência? Aquilo que somos, ou aquilo que fizemos? Quantos anos de mentira camuflada serão necessários para moldar a realidade que nos contorna? Como qualquer Obra-Prima da história da Sétima Arte, o filme ainda ecoa na memória decorridas horas sobre o seu visionamento, fomentando um extenso rol de cogitações que nos acompanharão durante dias. Duas das mais peculiares questões a desabrochar na mente, poderiam ser perfeitamente estas: Poderá um ouriço-cacheiro retirar os seus espinhos? Se tal acontecesse, a essência do ouriço pelado seria a mesma?